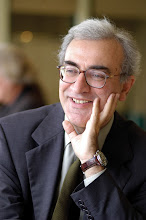Meia dúzia de anos de prosperidade na Europa do Leste bastaram para certos economistas, sempre mais lestos a proclamar milagres do que o Vaticano, apontarem as políticas económicas lá adoptadas como modelos de sensatez a seguir pelo resto do Continente.
Vemos agora que a primeira contrariedade séria ameaça fazer desmoronar as frágeis economias sem rede dos países do Leste, situação tanto mais grave quanto é facto que os Estados mínimos que por lá foram edificados não estão em condições de oferecer o necessário amparo aos cidadãos mais atingidos.
Povos desconhecedores dos perigos da sofisticação financeira orquestrada por trampolineiros sem escrúpulos endividaram-se em euros ou francos suíços, sem suspeitarem do que poderia acontecer no dia em que as suas moedas sofressem as drásticas desvalorizações que agora parecem inevitáveis. Conhecendo-se o elevado grau de exposição de muitos bancos ocidentais (e principalmente dos austríacos) às economias do leste, teme-se que, por efeito dominó, toda a economia da União Europeia seja arrastada para um abismo cuja profundidade desconhecemos. Eis-nos então chegados à parte pior do drama, aquela em que de súbito descobrimos que o navio está no meio da tormenta sem ninguém ao leme.
Ao longo de quase duas décadas, os países da União Europeia alienaram progressivamente os instrumentos de gestão das suas economias. Muitos de nós acreditámos, na nossa santa ingenuidade, que teria ocorrido uma genuína transferência de poderes para o centro, mas nada disso se passou. Como o aprofundamento da união política foi sempre preterido em favor do alargamento a mata-cavalos, as políticas económicas nacionais não foram substituídas por políticas económicas europeias, de forma que o que hoje sobra é o vazio.
O Banco Central Europeu é um original exercício de humor negro, combinando a máxima independência com a mínima preocupação em relação ao crescimento e ao emprego. A política orçamental comunitária pura e simplesmente não existe, excepto para quem acha que o incentivo à concorrência fiscal entre países membros merece esse nome.
É o estado mínimo em todo o seu esplendor, ou seja uma União Europeia de má qualidade mas baratinha.
Acresce que a União é hoje governada por gente que não presta – nem pessoal, nem política, nem tecnicamente -; gente despreocupada com as suas responsabilidades perante os cidadãos; gente destituída de ideais europeus e de instinto de solidariedade; gente que, numa palavra, não sabe o que anda a fazer.
Cada nova cimeira agrava o sentimento de angústia dos europeus. No último domingo, no final do encontro dos chefes de governo da União, soubemos que, por um lado, os problemas do leste serão tratados caso a caso, e que, por outro, a via para a saída da crise é o Mercado Único. Ora, pense-se o que se pensar do Mercado Único, é descabido apresentá-lo como uma política anti-recessão.
Na mesma ocasião, foram liminarmente recusadas as propostas cada vez mais insistentes de elaboração de um plano europeu coordenado de intervenção financiado pela emissão de obrigações europeias. De modo que aqui estamos todos, sentados sobre as mãos, à espera que os especuladores cumpram o seu dever.
Ao longo das duas últimas décadas as economias internacionalizaram-se, mas os poderes políticos permaneceram confinados ao plano nacional. Daí o progressivo esvaziamento dos poderes públicos dos estados-membros da União, permitindo que os poderes fácticos dos mercados e das finanças se emancipassem de qualquer tutela minimamente eficaz. Sendo evidente a crescente impotência dos políticos nacionais, alastram em paralelo no Continente o desinteresse dos cidadãos pela participação democrática e o populismo mediático desbragado.
Apesar da extensão do desastre, persiste uma tenaz resistência à correcção dos flagrantes erros que nos conduziram a este imbróglio. Em ano de eleições para o Parlamento Europeu, devemos prestar a máxima atenção ao que os partidos têm para nos dizer a este respeito.
Trata-se de uma oportunidade única de liquidar a União Europeia low-cost. Há coincidências temporais felizes.
Amanhã
Há 1 dia