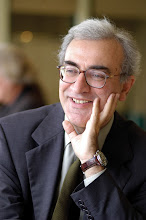Imagine que não havia maternidades e que, ao romperem-lhe as águas, uma
grávida que não confiasse em curiosas telefonaria ao seu médico
assistente a anunciar-lhe que a coisa estava para breve.
Por sua
vez, ele convocaria um a um os enfermeiros e restante pessoal auxiliar
indispensável para ajudar no parto. Seguir-se-iam o aluguer, pelo
período considerado necessário, de uma sala conveniente e do equipamento
indispensável. Por último, seriam contratados os medicamentos e
materiais clínicos necessários.
Em teoria, não fazem falta
maternidades para assistir partos. Basta que um grupo de profissionais
qualificados se associe no momento certo, contratando com o médico que
chefia a equipa as condições de prestação do serviço.
Sucede,
porém, que o método se adapta mal à emergência da situação. Tendo em
conta o carácter ocasional da cooperação, é natural que os envolvidos
aproveitem a ocasião para negociar os respectivos honorários e restantes
condições de trabalho. Se não se apressam – e porque haveriam de
apressar-se? – é muito possível que, entretanto, nasça a criança.
Todavia,
considerando a regularidade da ocorrência de partos, o líder da equipa
poderia estabelecer contratos estáveis de prestação de serviços, sem
necessidade de entabular negociações de cada vez que fosse chamado por
uma parturiente. Continuaria, porém, a não haver maternidades: os
profissionais envolvidos contratariam directamente entre si o serviço em
vez de se vincularem por contratos de trabalho com uma instituição
responsável por coordenar a sua actividade. A coordenação dos seus
esforços far-se-ia através do mercado, e não de uma empresa.
Poder-se-ia
confiar num tal arranjo para garantir partos seguros a mães e crianças,
por um preço razoável? Ronald Coase, hoje com 101 anos de idade,
ganhou, em 1991, o Nobel por explicar porque são necessárias
organizações estáveis (eventualmente empresas) em situações deste tipo.
A ineficiência dos arranjos ad hoc resulta
de premiarem comportamentos oportunistas cujas consequências se tornam
mais evidentes com a passagem do tempo. Uma óbvia dificuldade reside na
ausência de incentivos para providenciar formação e actualização de
conhecimentos. O médico não gostaria, por exemplo, de ensinar aos seus
colaboradores ocasionais novas técnicas que reduzissem a mortalidade
infantil, com receio de que eles fossem ensiná-las aos seus
concorrentes. Sem instituições coesas, ficam bloqueados os processos de
aprendizagem colaborativa.
É, por isso, absurdo encarar-se uma
maternidade como um mero aglomerado de recursos humanos e materiais
intermutáveis, de que se pode pôr e dispor ao sabor dos caprichos de
momento. Na prática, necessitamos para assegurar partos seguros e
eficientes de instituições, como a Maternidade Alfredo da Costa, dotadas
de uma forte identidade assente em valores sólidos, crenças
partilhadas, procedimentos e métodos de trabalho consolidados ao longo
de décadas.
Um amigo em tempos recrutado para uma multinacional
petrolífera foi no seu primeiro dia de trabalho questionado pela pessoa
encarregada da sua integração: "Sabe o que fazemos aqui?". "Sei,
pesquisamos, extraímos e refinamos petróleo". "Errado", troçou o outro,
"nós aqui fazemos dinheiro."
Existem muitas empresas que,
implícita ou explicitamente, educam os seus colaboradores nessa ideia,
exortando-os a colaborar nas malfeitorias eventualmente exigidas por
esse propósito. Deixada à solta, esta variante de "ética empresarial"
ajudou a desencadear a crise financeira
internacional de que há cinco anos o mundo padece. Para cúmulo, algumas
pessoas que, no mínimo, conviveram pacificamente com esses princípios
de gestão no sector financeiro privado, acham-se agora no direito de
implantá-los no sector público.
Instituições confiáveis, como a
Maternidade Alfredo Costa, demoram décadas a construir. Não se pode
permitir que uma facção de bárbaros engravatados destrua de uma penada a
dedicação e o esforço de gerações de profissionais justamente
orgulhosos da qualidade do seu trabalho.
Publicado no Jornal de Negócios em 23.4.12
Lição de ética
Há 16 horas