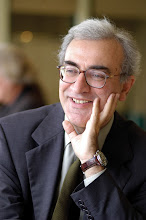Como tantos outros que subiram na vida a pulso, Geraldo ora invocava origens humildes para realçar o seu mérito pessoal, ora insinuava uma vaga ascendência nobre de que fora misteriosamente separado pela força na infância.
Certo é que cresceu nas serranias entre os lobos, habituado a pernoitar ao relento, a suportar frio e calor extremos, comendo o que calhava. Ainda criança, juntou-se a bandos de ladrões que aterrorizavam aldeias isoladas das terras do Guadiana. Começou depois a acompanhar fossados de cavaleiros-vilões vindos de Santarém que penetravam fundo em território mouro, às vezes indo até às portas de Sevilha. Na volta, traziam consigo cativos, cavalos e rebanhos, mas também armas e moedas de ouro.
Geraldo não nascera para ser mandado, por isso em breve criou a sua própria mesnada. Inventou uma inovadora tática de assalto a povoações fortificadas à medida do feroz destemor que o movia. No inverno, recolhidos os outros bandidos às suas tocas, era quando ele se metia aos caminhos transportando enormes escadotes por léguas a fio e, no mais escuro da noite, de preferência sob pavorosa tempestade, degolava as sentinelas desprevenidas, chacinava os defensores, apoderava-se dos castelos e espoliava os habitantes.
Um letrado de Coimbra traçou-lhe num pedaço de pergaminho uma análise SWOT. Fez-lhe ver que a oportunidade residia no vazio administrativo e militar num vasto território que o conflito entre almorávidas e almóadas deixara ao abandono. Entre os pontos fortes destacou o conhecimento íntimo do terreno, a familiaridade com os dialectos locais e a ousadia sem limites. Para lisonjeá-lo, calou as fraquezas. Propôs-se redigir-lhe uma declaração de missão, visão e valores, mas Geraldo prescindiu dessa parte porque já seria a pagar.
No espaço de breves semanas, atacava em locais separados por mais de duzentos quilómetros à frente do seu bando, numa espécie de movimento browniano que atordoava as prezas. Trujillo, Évora, Cáceres, Montánchez, Serpa, Juromenha, Santa Cruz, Monfrague, Moura, Monsaraz, Alconchel e Lobón tombaram às suas mãos entre 1165 e 1168. Aos que lhe censuravam a ferocidade respondia que os players que não se adaptassem aos novos tempos seriam liquidados. E que julgavam esses pedantes poder ensinar-lhe, a ele que criava valor e emprego?
Reconheceu que enfrentar mil perigos para tomar cidades e logo depois abandoná-las era ineficiente e prejudicava o bottom-line. Concebeu por isso um novo modelo de negócio, consistente em vendê-las a quem mais oferecesse depois de conquistadas. Entre os seus melhores clientes contavam-se Rodríguez de Castro, fidalgo castelhano a quem cedeu Trujillo, e Afonso Henriques, que se apressou a comprar-lhe Évora – embora fossem frequentes as reclamações por atrasos nos deliverables.
Pensou depois reforçar a integração da cadeia de valor. Transformou Juromenha, um pobre refúgio fortificado, na base logística de um cluster de banditismo. Propôs em 1169 a Afonso Henriques uma joint-venture contra Badajoz para alavancar sinergias, mas a operação redundou num fracasso. O rei (Idfunsh ibn Al-Anrik, para os muçulmanos) fracturou uma perna, foi capturado, teve que devolver várias praças-fortes a troco da libertação, ficou inválido e culpou Geraldo do sucedido.
Persuadido de que errara ao descurar o core business e vendo o crescimento do bando minar a organização flat de que tanto se orgulhara, Geraldo optou pela internacionalização. No verão de 1176 passou-se com 350 homens de armas para Marrocos. Deram-lhe terras e riquezas, incluindo o comando militar de Tarudant, mas o seu espírito irrequieto não sossegou. Sempre orientado para os resultados, escreveu a Afonso Henriques apresentando-lhe uma nova proposta de valor e exortando-o a sair da sua zona de conforto para armar galeras e partir à conquista de Marrocos.
Descoberta a tramóia, Geraldo Geraldes, o Sem Pavor, foi convocado pelo califa de Marraquexe e sumariamente assassinado, provavelmente maldizendo a sina de ter nascido entre gente invejosa e piegas que não valoriza a iniciativa individual.
Publicado no Jornal de Negócios em 28.2.12
quinta-feira, 1 de março de 2012
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
A Grande Depressão, Ano 5
Decorridos 54 meses desde que, em Agosto de 2007, rebentou a bolha do sub-prime, conheceremos ao menos as causas da situação comatosa em que nos encontramos?
Ainda mal se tornara evidente a extensão da catástrofe e já se apontava a ganância dos especuladores financeiros como a origem do mal, perceção reforçada pela emergência de mini-escândalos como o esquema Madoff nos EUA ou as fraudes do BPN entre nós. Mas é óbvio que a avidez de alguns só pode ter consequências deste quilate quando ocorrem falhas em larga escala dos sistemas financeiros e da sua regulação.
Assim, as atenções da opinião informada viraram-se para a compreensão do que está mal nos arranjos institucionais que têm imperado nessa área. Não foi difícil concluir-se que a promiscuidade entre a banca comercial e a banca de investimento, adicionada à incontrolada "inovação financeira", expõe as poupanças do cidadão mais cauteloso a riscos incalculáveis, ao mesmo tempo que incentiva aventureiros a apostarem rijo com o dinheiro dos outros.
Tudo isso está muito certo, mas fica ainda por explicar como é que venerandas instituições se deixaram envolver neste jogo de alto risco. Terá sido pura cupidez ou deveremos antes considerar que um conjunto de incentivos perversos as atraíram para o abismo?
A economia mundial no seu conjunto foi inundada desde meados dos anos 90 por um colossal fluxo de poupanças em busca de aplicação, principalmente originárias da China, do Japão e da Alemanha. Daí a descida das taxas de juro para níveis historicamente baixíssimos. Uma tal circunstância deveria ter contribuído para viabilizar um boom de investimento produtivo, mas isso não aconteceu. Múltiplos indícios sugerem que, excetuando as aplicações puramente financeiras, o investimento privado cresceu a taxas cada vez menores na última dúzia de anos num bom número de países desenvolvidos.
Ora, quando cada vez mais dinheiro livre corre atrás de cada vez menos oportunidades de investimento atrativas, temos, como Ben Bernanke notou, um excesso global de poupança. Rareando os investimentos rentáveis na esfera produtiva, resta como única via a sua aplicação especulativa em projetos cada vez mais arriscados para assegurar os indicadores que as bolsas hora a hora inspeccionam à lupa para avaliar o desempenho das empresas e, por decorrência, emitir os certificados de competência que depois se traduzem nos apetecidos bónus dos gestores de topo.
Uma influente linha de pensamento, exemplificada por Raghuram Rajan em Fault Lines, explica a redução das oportunidades de investimento com a estagnação dos salários em economias tão importantes como a americana, a alemã, a japonesa, a britânica e a italiana. A insuficiência do rendimento das famílias foi num primeiro momento compensada pelo recurso imoderado ao crédito barato, mantendo assim o consumo a níveis insustentavelmente elevados, mas esse recurso esgotou-se por fim. O que aí temos, pois, é uma típica crise de subconsumo provocada por uma compressão salarial prolongada. No actual quadro de endividamento generalizado, alguns recomendam para sair dela uma reanimação da procura impulsionada por políticas públicas voluntaristas.
Uma explicação alternativa, reconhecendo embora a redução de oportunidades de investimento lucrativo, entende que ela é fruto da travagem do progresso tecnológico que é o motor último do crescimento, adiantando uma impressionante soma de dados para comprovar a tese. Ora, contra isto, as políticas keynesianas nada podem. Tal é o ponto de vista exposto por Tyler Cowen no seu recente livro The Great Stagnation, compatível com a teoria de que os ciclos têm a sua origem em choques externos à economia.
Qual será a perspectiva mais correta?
A estagnação da inovação tecnológica será a causa profunda da exiguidade de oportunidades rentáveis, explicando de passagem a pressão sobre os salários reais. Mas isso não torna obrigatoriamente ineficazes as políticas públicas orientadas para o estímulo da procura: dispomos no presente de instrumentos de produção e de capacidades humanas brutalmente subutilizados aos quais pode e deve ser dada aplicação útil. O regresso aos níveis de produção anteriores ao estalar da crise afigura-se, por isso, um objectivo eminentemente razoável.
Já a questão de saber como repor em marcha o motor da inovação é algo inteiramente diferente, até por ser duvidosa a nossa capacidade de encomendar uma revolução tecnológica. Seja como for, a nossa primeira tarefa será estabilizar a condição do paciente; logo promoveremos a sua convalescença e veremos como fazê-lo regressar à plenitude do seu vigor.
Publicado no Jornal de Negócios em 14.2.12
Ainda mal se tornara evidente a extensão da catástrofe e já se apontava a ganância dos especuladores financeiros como a origem do mal, perceção reforçada pela emergência de mini-escândalos como o esquema Madoff nos EUA ou as fraudes do BPN entre nós. Mas é óbvio que a avidez de alguns só pode ter consequências deste quilate quando ocorrem falhas em larga escala dos sistemas financeiros e da sua regulação.
Assim, as atenções da opinião informada viraram-se para a compreensão do que está mal nos arranjos institucionais que têm imperado nessa área. Não foi difícil concluir-se que a promiscuidade entre a banca comercial e a banca de investimento, adicionada à incontrolada "inovação financeira", expõe as poupanças do cidadão mais cauteloso a riscos incalculáveis, ao mesmo tempo que incentiva aventureiros a apostarem rijo com o dinheiro dos outros.
Tudo isso está muito certo, mas fica ainda por explicar como é que venerandas instituições se deixaram envolver neste jogo de alto risco. Terá sido pura cupidez ou deveremos antes considerar que um conjunto de incentivos perversos as atraíram para o abismo?
A economia mundial no seu conjunto foi inundada desde meados dos anos 90 por um colossal fluxo de poupanças em busca de aplicação, principalmente originárias da China, do Japão e da Alemanha. Daí a descida das taxas de juro para níveis historicamente baixíssimos. Uma tal circunstância deveria ter contribuído para viabilizar um boom de investimento produtivo, mas isso não aconteceu. Múltiplos indícios sugerem que, excetuando as aplicações puramente financeiras, o investimento privado cresceu a taxas cada vez menores na última dúzia de anos num bom número de países desenvolvidos.
Ora, quando cada vez mais dinheiro livre corre atrás de cada vez menos oportunidades de investimento atrativas, temos, como Ben Bernanke notou, um excesso global de poupança. Rareando os investimentos rentáveis na esfera produtiva, resta como única via a sua aplicação especulativa em projetos cada vez mais arriscados para assegurar os indicadores que as bolsas hora a hora inspeccionam à lupa para avaliar o desempenho das empresas e, por decorrência, emitir os certificados de competência que depois se traduzem nos apetecidos bónus dos gestores de topo.
Uma influente linha de pensamento, exemplificada por Raghuram Rajan em Fault Lines, explica a redução das oportunidades de investimento com a estagnação dos salários em economias tão importantes como a americana, a alemã, a japonesa, a britânica e a italiana. A insuficiência do rendimento das famílias foi num primeiro momento compensada pelo recurso imoderado ao crédito barato, mantendo assim o consumo a níveis insustentavelmente elevados, mas esse recurso esgotou-se por fim. O que aí temos, pois, é uma típica crise de subconsumo provocada por uma compressão salarial prolongada. No actual quadro de endividamento generalizado, alguns recomendam para sair dela uma reanimação da procura impulsionada por políticas públicas voluntaristas.
Uma explicação alternativa, reconhecendo embora a redução de oportunidades de investimento lucrativo, entende que ela é fruto da travagem do progresso tecnológico que é o motor último do crescimento, adiantando uma impressionante soma de dados para comprovar a tese. Ora, contra isto, as políticas keynesianas nada podem. Tal é o ponto de vista exposto por Tyler Cowen no seu recente livro The Great Stagnation, compatível com a teoria de que os ciclos têm a sua origem em choques externos à economia.
Qual será a perspectiva mais correta?
A estagnação da inovação tecnológica será a causa profunda da exiguidade de oportunidades rentáveis, explicando de passagem a pressão sobre os salários reais. Mas isso não torna obrigatoriamente ineficazes as políticas públicas orientadas para o estímulo da procura: dispomos no presente de instrumentos de produção e de capacidades humanas brutalmente subutilizados aos quais pode e deve ser dada aplicação útil. O regresso aos níveis de produção anteriores ao estalar da crise afigura-se, por isso, um objectivo eminentemente razoável.
Já a questão de saber como repor em marcha o motor da inovação é algo inteiramente diferente, até por ser duvidosa a nossa capacidade de encomendar uma revolução tecnológica. Seja como for, a nossa primeira tarefa será estabilizar a condição do paciente; logo promoveremos a sua convalescença e veremos como fazê-lo regressar à plenitude do seu vigor.
Publicado no Jornal de Negócios em 14.2.12
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012
Os empreendedores não criam empregos
Na tentativa de conservar os padrões de bem-estar previamente atingidos, as famílias endividaram-se. Este padrão de distribuição gerou, a prazo, uma redução de oportunidades de investimento produtivo, estimulando o desvio dos capitais disponíveis para actividades especulativas.
Para onde foram os batalhões de dactilógrafas e secretárias que, ainda nos anos 80 do passado século, enxameavam os escritórios? Que é feito dos exércitos de calculadores empregados nos bancos, nas seguradoras e nas repartições públicas? Desapareceram para sempre, substituídos por computadores pessoais equipados com programas como o Word e o Excel.
Os empreendedores que lançaram os computadores pessoais e o "software" que eles utilizam criaram inúmeros postos de trabalho, mas destruíram do mesmo passo muitos mais. Tudo considerado, em termos líquidos, o impacto direto da sua acção reduziu o emprego.
Note-se que isto não sucede apenas em sectores de alta tecnologia, pois cada hipermercado que abre encerra largas dezenas de mercearias, frutuárias, talhos e peixarias. Qualquer inovação genuína, seja porque permite fazer algo com menores custos, seja porque torna obsoletas actividades existentes, aniquila direta ou indiretamente um número considerável de postos de trabalho. Quando hoje uma borboleta empresarial bate as asas na China, milhares de empregos esfumam-se no Vale do Ave.
A revolução industrial trouxe consigo a dúvida sobre se o progresso tecnológico não condenaria à inação e à miséria uma proporção crescente de trabalhadores. Para escândalo geral, Ricardo sustentou que os receios dos luditas que apelavam à destruição das máquinas tinham a lógica económica do seu lado. Sendo certo que os lucros apropriados pelos empreendedores bem sucedidos poderiam estimular a produção de bens de luxo e, assim, ocupar mais gente, Ricardo não via que isso fosse suficiente para contrariar o aumento do desemprego. A única solução, pensava, seria a expansão da criadagem ao serviço dos ricos ou a mobilização de soldados para a guerra.
Tendo a revolução industrial começado vai para um quarto de milénio, como se explica então que ainda haja alguém a trabalhar? E que função social útil desempenham afinal os empresários?
A função distintiva do empresário é tornar o trabalho mais produtivo. Espera-se dele que promova a eficiência, seja fabricando mais pregos por hora, seja tornando os pregos supérfluos e substituindo-os por colas extra-fortes. Mas os ganhos de produtividade que ele gera só beneficiarão a maioria se parte substancial deles reverter para os salários, o que está longe de ser um processo automático.
Historicamente, o excesso de mão-de-obra deu origem a fluxos migratórios de dezenas de milhões de europeus para o Novo Mundo. Quando essa válvula de escape se esgotou, porém, não sobrou outra alternativa senão recorrer às forças compensadoras da organização sindical, da legislação laboral e do emprego público para impedir o alastramento do desemprego de longo prazo e a degradação dos salários. Espantosamente, a conjugação desses fatores acabou por gerar o período de mais rápido, estável e duradouro crescimento da história.
Eis senão quando uma seita de iluminados demonstrou irrefutavelmente com a ajuda de algumas equações matemáticas que andávamos todos enganados e que seria possível obter resultados muito superiores confiando no poder incontrolado dos mercados e, desde logo, retirando poder negocial aos assalariados. Graças a esses sábios conselhos, os salários mais baixos estagnaram duradouramente em muitos países, as desigualdades económicas voltaram a agravar-se e o desemprego passou a situar-se a níveis consistentemente mais elevados.
Na tentativa de conservar os padrões de bem-estar previamente atingidos, as famílias endividaram-se. Este padrão de distribuição gerou a prazo uma redução de oportunidades de investimento produtivo, estimulando o desvio dos capitais disponíveis para actividades especulativas. O resto da história já todos conhecemos.
É natural que o empreendedor individual acredite estar a contribuir para reduzir o desemprego quando contrata trabalhadores. Porém, é no plano macro que se decide se daí resultará um acréscimo líquido de emprego e se ele suportará um crescimento sustentável. E isso só ocorre na vigência de instituições capazes de assegurar que os benefícios da inovação serão distribuídos pela comunidade numa proporção equilibrada.
A criação de emprego resulta sempre, digamos assim, de uma espécie de parceria público-privada.
Publicado no Jornal de Negócios em 30.1.12.
Para onde foram os batalhões de dactilógrafas e secretárias que, ainda nos anos 80 do passado século, enxameavam os escritórios? Que é feito dos exércitos de calculadores empregados nos bancos, nas seguradoras e nas repartições públicas? Desapareceram para sempre, substituídos por computadores pessoais equipados com programas como o Word e o Excel.
Os empreendedores que lançaram os computadores pessoais e o "software" que eles utilizam criaram inúmeros postos de trabalho, mas destruíram do mesmo passo muitos mais. Tudo considerado, em termos líquidos, o impacto direto da sua acção reduziu o emprego.
Note-se que isto não sucede apenas em sectores de alta tecnologia, pois cada hipermercado que abre encerra largas dezenas de mercearias, frutuárias, talhos e peixarias. Qualquer inovação genuína, seja porque permite fazer algo com menores custos, seja porque torna obsoletas actividades existentes, aniquila direta ou indiretamente um número considerável de postos de trabalho. Quando hoje uma borboleta empresarial bate as asas na China, milhares de empregos esfumam-se no Vale do Ave.
A revolução industrial trouxe consigo a dúvida sobre se o progresso tecnológico não condenaria à inação e à miséria uma proporção crescente de trabalhadores. Para escândalo geral, Ricardo sustentou que os receios dos luditas que apelavam à destruição das máquinas tinham a lógica económica do seu lado. Sendo certo que os lucros apropriados pelos empreendedores bem sucedidos poderiam estimular a produção de bens de luxo e, assim, ocupar mais gente, Ricardo não via que isso fosse suficiente para contrariar o aumento do desemprego. A única solução, pensava, seria a expansão da criadagem ao serviço dos ricos ou a mobilização de soldados para a guerra.
Tendo a revolução industrial começado vai para um quarto de milénio, como se explica então que ainda haja alguém a trabalhar? E que função social útil desempenham afinal os empresários?
A função distintiva do empresário é tornar o trabalho mais produtivo. Espera-se dele que promova a eficiência, seja fabricando mais pregos por hora, seja tornando os pregos supérfluos e substituindo-os por colas extra-fortes. Mas os ganhos de produtividade que ele gera só beneficiarão a maioria se parte substancial deles reverter para os salários, o que está longe de ser um processo automático.
Historicamente, o excesso de mão-de-obra deu origem a fluxos migratórios de dezenas de milhões de europeus para o Novo Mundo. Quando essa válvula de escape se esgotou, porém, não sobrou outra alternativa senão recorrer às forças compensadoras da organização sindical, da legislação laboral e do emprego público para impedir o alastramento do desemprego de longo prazo e a degradação dos salários. Espantosamente, a conjugação desses fatores acabou por gerar o período de mais rápido, estável e duradouro crescimento da história.
Eis senão quando uma seita de iluminados demonstrou irrefutavelmente com a ajuda de algumas equações matemáticas que andávamos todos enganados e que seria possível obter resultados muito superiores confiando no poder incontrolado dos mercados e, desde logo, retirando poder negocial aos assalariados. Graças a esses sábios conselhos, os salários mais baixos estagnaram duradouramente em muitos países, as desigualdades económicas voltaram a agravar-se e o desemprego passou a situar-se a níveis consistentemente mais elevados.
Na tentativa de conservar os padrões de bem-estar previamente atingidos, as famílias endividaram-se. Este padrão de distribuição gerou a prazo uma redução de oportunidades de investimento produtivo, estimulando o desvio dos capitais disponíveis para actividades especulativas. O resto da história já todos conhecemos.
É natural que o empreendedor individual acredite estar a contribuir para reduzir o desemprego quando contrata trabalhadores. Porém, é no plano macro que se decide se daí resultará um acréscimo líquido de emprego e se ele suportará um crescimento sustentável. E isso só ocorre na vigência de instituições capazes de assegurar que os benefícios da inovação serão distribuídos pela comunidade numa proporção equilibrada.
A criação de emprego resulta sempre, digamos assim, de uma espécie de parceria público-privada.
Publicado no Jornal de Negócios em 30.1.12.
sexta-feira, 20 de janeiro de 2012
Os dois capitalismos e a cafrealização dos costumes
A mudança para a Holanda do domicílio fiscal da sociedade familiar que controla a Jerónimo Martins foi muito criticada por sugerir uma quebra de solidariedade com o país num momento de crise em que se apela à partilha do sofrimento entre todos.
Em resposta, houve quem louvasse a sua racionalidade e oportunidade tendo em conta a responsabilidade que qualquer empresa tem de assegurar a sua sobrevivência e crescimento. Sem lucros não há postos de trabalho nem investimento, disse-se; logo, os empresários têm não só o direito como o dever de buscar, se necessário no estrangeiro, as condições fiscais mais favoráveis para os seus accionistas.
Fez impressão que, no contexto de um debate acalorado mas razoável, o patriarca da família viesse a público dizer coisas como: "tenho o direito de defender o meu património"; "o português não gosta da iniciativa privada"; "não aceito ataques pessoais"; e "no parlamento continua a insultar-se a iniciativa privada". Mas o que verdadeiramente nos interessa é esta sua afirmação: "a minha responsabilidade é gerir o dinheiro dos accionistas". Só?
Os manuais de microeconomia pretendem que o propósito de uma empresa é a maximização do lucro e Milton Friedman inferiu daí que nenhuma outra responsabilidade social deve ser exigida ao empresário. Ambas as teses são erradas. Nenhum gestor sabe o que, em termos práticos, poderá significar a exigência da maximização do lucro, muito menos como alcançá-la. Além disso, Jim Collins demonstrou em "Built to Last" que, paradoxalmente, as empresas verdadeiramente excecionais atribuem uma baixa prioridade à rentabilidade, a qual se revela, na prática, um resultado colateral de uma série de coisas que podemos sinteticamente designar como paixão pela excelência estribada numa sólida visão de negócio.
Peter Drucker, o fundador da disciplina da gestão, para quem o lucro não era "a explicação, a causa ou a justificação das decisões de negócios, mas o teste da sua validade", não teria ficado surpreendido com essa conclusão. É isto, diga-se de passagem, que se ensina nas grandes "business schools" cujos rankings excitam tanta gente.
Naturalmente, nem todas as empresas seguem a via indicada. Há um capitalismo que assenta a sua prosperidade na conceção de bens e serviços inovadores ou na invenção de processos mais eficientes (logo, mais económicos) de produção e distribuição, dedicando-se à destruição criadora de que falava Schumpeter. Mas também há outro que trata apenas de explorar o poder negocial resultante de barreiras à entrada, do acesso preferencial a matérias-primas, da protecção política ou da fortuna do paizinho, beneficiando de rendas de situação que lhe permitem cobrar alguma espécie de portagem.
Percebe-se que o segundo modelo fixe preferencialmente as suas atenções no lucro, porque, em empresas que exigem menos competências distintivas, fazer dinheiro será porventura a actividade mais desafiadora. Já quem gere uma empresa inovadora terá muito mais coisas interessantes com que se entreter.
Para o público, o capitalismo obcecado com o lucro é por vezes inevitável; mas só aquele que contribui para a melhoria do bem-estar colectivo é desejável. O primeiro será um mal menor; o segundo, um bem maior. O primeiro é um problema dos seus acionistas; o segundo, um ativo para todos nós. Com o primeiro mantemos uma relação interesseira; com o segundo, uma relação interessada. Entendemos que o progresso do país depende de reduzirmos o poder de influência de empresas do primeiro tipo e de conseguirmos ter mais do segundo.
A doutrina que concede toda a prioridade ao lucro não é uma teoria empiricamente sustentada, apenas uma prescrição que visa justificar a total subordinação da gestão empresarial aos interesses dos acionistas em detrimento de todas as restantes partes envolvidas, incluindo trabalhadores, clientes, parceiros, fornecedores, comunidade local e comunidade nacional.
Os empresários e gestores que se acham no direito de usar sem entraves o poder de que desfrutam estão a contribuir para a cafrealização dos costumes. "Se tens poder, usa-o": é este o conselho que nos dão. Ora a civilização consiste na contenção do poder, incluindo, como elemento essencial, a auto-contenção. Inversamente, quem entende que o poder sobreleva quaisquer outras considerações coloca-se "ipso facto" do lado da força bruta.
Cheira-me que não agradará muito àqueles que hoje tudo podem o que um dia poderão vir a poder aqueles que, de momento, nada podem.
Publicado no Jornal de Negócios em 17.1.12
Em resposta, houve quem louvasse a sua racionalidade e oportunidade tendo em conta a responsabilidade que qualquer empresa tem de assegurar a sua sobrevivência e crescimento. Sem lucros não há postos de trabalho nem investimento, disse-se; logo, os empresários têm não só o direito como o dever de buscar, se necessário no estrangeiro, as condições fiscais mais favoráveis para os seus accionistas.
Fez impressão que, no contexto de um debate acalorado mas razoável, o patriarca da família viesse a público dizer coisas como: "tenho o direito de defender o meu património"; "o português não gosta da iniciativa privada"; "não aceito ataques pessoais"; e "no parlamento continua a insultar-se a iniciativa privada". Mas o que verdadeiramente nos interessa é esta sua afirmação: "a minha responsabilidade é gerir o dinheiro dos accionistas". Só?
Os manuais de microeconomia pretendem que o propósito de uma empresa é a maximização do lucro e Milton Friedman inferiu daí que nenhuma outra responsabilidade social deve ser exigida ao empresário. Ambas as teses são erradas. Nenhum gestor sabe o que, em termos práticos, poderá significar a exigência da maximização do lucro, muito menos como alcançá-la. Além disso, Jim Collins demonstrou em "Built to Last" que, paradoxalmente, as empresas verdadeiramente excecionais atribuem uma baixa prioridade à rentabilidade, a qual se revela, na prática, um resultado colateral de uma série de coisas que podemos sinteticamente designar como paixão pela excelência estribada numa sólida visão de negócio.
Peter Drucker, o fundador da disciplina da gestão, para quem o lucro não era "a explicação, a causa ou a justificação das decisões de negócios, mas o teste da sua validade", não teria ficado surpreendido com essa conclusão. É isto, diga-se de passagem, que se ensina nas grandes "business schools" cujos rankings excitam tanta gente.
Naturalmente, nem todas as empresas seguem a via indicada. Há um capitalismo que assenta a sua prosperidade na conceção de bens e serviços inovadores ou na invenção de processos mais eficientes (logo, mais económicos) de produção e distribuição, dedicando-se à destruição criadora de que falava Schumpeter. Mas também há outro que trata apenas de explorar o poder negocial resultante de barreiras à entrada, do acesso preferencial a matérias-primas, da protecção política ou da fortuna do paizinho, beneficiando de rendas de situação que lhe permitem cobrar alguma espécie de portagem.
Percebe-se que o segundo modelo fixe preferencialmente as suas atenções no lucro, porque, em empresas que exigem menos competências distintivas, fazer dinheiro será porventura a actividade mais desafiadora. Já quem gere uma empresa inovadora terá muito mais coisas interessantes com que se entreter.
Para o público, o capitalismo obcecado com o lucro é por vezes inevitável; mas só aquele que contribui para a melhoria do bem-estar colectivo é desejável. O primeiro será um mal menor; o segundo, um bem maior. O primeiro é um problema dos seus acionistas; o segundo, um ativo para todos nós. Com o primeiro mantemos uma relação interesseira; com o segundo, uma relação interessada. Entendemos que o progresso do país depende de reduzirmos o poder de influência de empresas do primeiro tipo e de conseguirmos ter mais do segundo.
A doutrina que concede toda a prioridade ao lucro não é uma teoria empiricamente sustentada, apenas uma prescrição que visa justificar a total subordinação da gestão empresarial aos interesses dos acionistas em detrimento de todas as restantes partes envolvidas, incluindo trabalhadores, clientes, parceiros, fornecedores, comunidade local e comunidade nacional.
Os empresários e gestores que se acham no direito de usar sem entraves o poder de que desfrutam estão a contribuir para a cafrealização dos costumes. "Se tens poder, usa-o": é este o conselho que nos dão. Ora a civilização consiste na contenção do poder, incluindo, como elemento essencial, a auto-contenção. Inversamente, quem entende que o poder sobreleva quaisquer outras considerações coloca-se "ipso facto" do lado da força bruta.
Cheira-me que não agradará muito àqueles que hoje tudo podem o que um dia poderão vir a poder aqueles que, de momento, nada podem.
Publicado no Jornal de Negócios em 17.1.12
segunda-feira, 9 de janeiro de 2012
Uma pesada herança
Quando nasci, a travessia do Tejo mais próxima de Lisboa era em Santarém. Pouco tempo depois, foi inaugurada a de Vila Franca. A única auto-estrada do país ligava Lisboa ao estádio do Jamor. Em 1962, construiu-se, a muito custo, um troço de Lisboa a Vila Franca.
Atravessar o país de norte a sul demorava quase 24 horas, quando agora um terço desse tempo bastará. Foi preciso esperar pelo século XXI para ser possível ir de comboio directamente de Faro a Braga.
O aeroporto do Funchal foi inaugurado em 1964, o de Faro em 1965, o de Ponta Delgada em 1969. A construção dessas infra-estruturas, aliada à expansão do aeroporto de Lisboa, possibilitou o rápido crescimento do turismo.
Em 1970, só havia água canalizada em 47% das habitações, instalações sanitárias em 58% delas, electricidade em 64% e saneamento básico em 60%. Todas essas amenidades são hoje consideradas triviais. Foram erradicadas as barracas, onde ainda em 1981 viviam 75 mil pessoas. Entre 1995 e 2008 passou de 32% para 64% a proporção de novos fogos com três ou mais quartos.
A taxa de mortalidade infantil é umas 24 vezes inferior à de 1960. A esperança de vida cresceu 15 anos desde a mesma data. Há 5,5 vezes mais médicos e 6 vezes mais enfermeiros. Os portugueses são agora 2,5% mais altos do que há uma geração atrás, resultado que traduz a melhoria geral das condições de saúde.
Um em cada três portugueses era analfabeto em 1970. Havia pouco mais alunos universitários do que hoje há professores. Porém, neste meio século, cresceu 41 vezes o número de crianças que frequentam o pré-escolar. Na última década do século XX duplicou o número de licenciados pelas universidades portuguesas, o que voltou a acontecer na década seguinte. Em cinquenta anos, a proporção de portugueses com curso superior passou de 1% para 12% da população com mais de vinte anos.
Há 11 vezes mais bibliotecas com 9 vezes mais utilizadores e 3 vezes mais museus com 11 vezes mais visitantes que há cinquenta anos. A I&D quintuplicou em proporção do PIB em vinte e cinco anos, enquanto foi multiplicado por 10 o número de investigadores. No período compreendido entre 1995 e 2008 cresceu 10 vezes o número de empresas com actividades de I&D. A exportação de serviços tecnológicos cresceu 8 vezes no mesmo período.
Ouve-se hoje muitas queixas sobre a herança que vamos deixar às novas gerações. Porém, mesmo sem falar do progresso dos costumes e das liberdades individuais e colectivas, ela é bem mais invejável que aquela que a minha recebeu. Em vez de herança pesada, deveríamos antes falar de herança de peso.
Deixemos aos historiadores a tarefa de esclarecer que proporção do investimento realizado deve ser considerada desperdício. O desafio pragmático que hoje se nos coloca é o de tirar o máximo partido dos recursos materiais e humanos entretanto acumulados sob a forma de infra-estruturas, equipamentos públicos e privados, capacidade de trabalho, conhecimento genérico e know-how específico.
A um avanço impetuoso, muitas vezes governado por uma crença ingénua nas virtualidades do investimento independentemente da sua qualidade, deve agora suceder uma fase de consolidação – não de abandono ou de destruição por incúria – do património existente. Precisa-se, pois, de uma estratégia mais orientada para a valorização do que temos, que nos permita passar do crescimento extensivo das últimas décadas para um crescimento intensivo.
Vejamos alguns exemplos. A existência de excelentes vias de comunicação possibilita a concentração de equipamentos de saúde e educação com ganhos de economia e qualidade, que podem e devem estender-se à reorganização administrativa do território. Os resultados extraordinários já alcançados com o Alqueva devem ser completados com obras de pormenor que permitirão tirar pleno partido do grande investimento realizado. O alargamento do canal do Panamá deve ser aproveitado para, explorando o que foi feito no porto de Sines, atrair investimento do Extremo Oriente que promova a montagem de produtos industriais dirigidos ao mercado europeu. Por último, é necessário assegurar, articulando a acção do estado com as empresas e os centros de investigação, que o país aproveite convenientemente o grande aumento do número de doutorados e investigadores tendo em vista a melhoria da competitividade das suas empresas.
Herdeiros diligentes esforçam-se por dar bom uso ao legado que recebem; beneficiários incompetentes e mal-agradecidos perdem-se em recriminações enquanto deixam ao abandono o invejável património que lhes caiu em sorte. É esse o verdadeiro dilema que nos coloca a herança de peso dos consideráveis investimentos orientados para a requalificação do país que realizámos ao longo do último meio século.
(Publicado no Jornal de Negócios em 3.1.12)
Atravessar o país de norte a sul demorava quase 24 horas, quando agora um terço desse tempo bastará. Foi preciso esperar pelo século XXI para ser possível ir de comboio directamente de Faro a Braga.
O aeroporto do Funchal foi inaugurado em 1964, o de Faro em 1965, o de Ponta Delgada em 1969. A construção dessas infra-estruturas, aliada à expansão do aeroporto de Lisboa, possibilitou o rápido crescimento do turismo.
Em 1970, só havia água canalizada em 47% das habitações, instalações sanitárias em 58% delas, electricidade em 64% e saneamento básico em 60%. Todas essas amenidades são hoje consideradas triviais. Foram erradicadas as barracas, onde ainda em 1981 viviam 75 mil pessoas. Entre 1995 e 2008 passou de 32% para 64% a proporção de novos fogos com três ou mais quartos.
A taxa de mortalidade infantil é umas 24 vezes inferior à de 1960. A esperança de vida cresceu 15 anos desde a mesma data. Há 5,5 vezes mais médicos e 6 vezes mais enfermeiros. Os portugueses são agora 2,5% mais altos do que há uma geração atrás, resultado que traduz a melhoria geral das condições de saúde.
Um em cada três portugueses era analfabeto em 1970. Havia pouco mais alunos universitários do que hoje há professores. Porém, neste meio século, cresceu 41 vezes o número de crianças que frequentam o pré-escolar. Na última década do século XX duplicou o número de licenciados pelas universidades portuguesas, o que voltou a acontecer na década seguinte. Em cinquenta anos, a proporção de portugueses com curso superior passou de 1% para 12% da população com mais de vinte anos.
Há 11 vezes mais bibliotecas com 9 vezes mais utilizadores e 3 vezes mais museus com 11 vezes mais visitantes que há cinquenta anos. A I&D quintuplicou em proporção do PIB em vinte e cinco anos, enquanto foi multiplicado por 10 o número de investigadores. No período compreendido entre 1995 e 2008 cresceu 10 vezes o número de empresas com actividades de I&D. A exportação de serviços tecnológicos cresceu 8 vezes no mesmo período.
Ouve-se hoje muitas queixas sobre a herança que vamos deixar às novas gerações. Porém, mesmo sem falar do progresso dos costumes e das liberdades individuais e colectivas, ela é bem mais invejável que aquela que a minha recebeu. Em vez de herança pesada, deveríamos antes falar de herança de peso.
Deixemos aos historiadores a tarefa de esclarecer que proporção do investimento realizado deve ser considerada desperdício. O desafio pragmático que hoje se nos coloca é o de tirar o máximo partido dos recursos materiais e humanos entretanto acumulados sob a forma de infra-estruturas, equipamentos públicos e privados, capacidade de trabalho, conhecimento genérico e know-how específico.
A um avanço impetuoso, muitas vezes governado por uma crença ingénua nas virtualidades do investimento independentemente da sua qualidade, deve agora suceder uma fase de consolidação – não de abandono ou de destruição por incúria – do património existente. Precisa-se, pois, de uma estratégia mais orientada para a valorização do que temos, que nos permita passar do crescimento extensivo das últimas décadas para um crescimento intensivo.
Vejamos alguns exemplos. A existência de excelentes vias de comunicação possibilita a concentração de equipamentos de saúde e educação com ganhos de economia e qualidade, que podem e devem estender-se à reorganização administrativa do território. Os resultados extraordinários já alcançados com o Alqueva devem ser completados com obras de pormenor que permitirão tirar pleno partido do grande investimento realizado. O alargamento do canal do Panamá deve ser aproveitado para, explorando o que foi feito no porto de Sines, atrair investimento do Extremo Oriente que promova a montagem de produtos industriais dirigidos ao mercado europeu. Por último, é necessário assegurar, articulando a acção do estado com as empresas e os centros de investigação, que o país aproveite convenientemente o grande aumento do número de doutorados e investigadores tendo em vista a melhoria da competitividade das suas empresas.
Herdeiros diligentes esforçam-se por dar bom uso ao legado que recebem; beneficiários incompetentes e mal-agradecidos perdem-se em recriminações enquanto deixam ao abandono o invejável património que lhes caiu em sorte. É esse o verdadeiro dilema que nos coloca a herança de peso dos consideráveis investimentos orientados para a requalificação do país que realizámos ao longo do último meio século.
(Publicado no Jornal de Negócios em 3.1.12)
quinta-feira, 29 de dezembro de 2011
Vamos experimentar enfiar o gato no micro-ondas para ver o que acontece
Diz-se ter Lord Palmerston afirmado a propósito de um diferendo territorial que durante décadas opôs a Dinamarca à Confederação Germânica: “A questão do Schleswig-Holstein é tão complicada que só três pessoas na Europa chegaram a compreendê-la. O primeiro era o Príncipe Alberto, que morreu. O segundo era um Professor alemão, que enlouqueceu. O terceiro era eu, e esqueci-me.” Substitua-se o Príncipe Alberto por Miterrand, o professor alemão por Jurgen Stark e Palmerston por Delors, e, em vez do Schleswig-Holstein, estaremos a falar da zona euro.
O euro é o ornitorrinco do mundo financeiro, uma ave mamífera rastejante que se imagina capaz de altos voos. Mas não se pense que foi concebido assim por engano: as primeiras versões do projecto da moeda única europeia, traçadas nos anos 70, incluíam quase tudo o que agora se reconhece faltar-lhe: união fiscal, união política, flexibilidade numa fase de transição, euro-obrigações e um emprestador de última instância.
Foi preciso muito trabalho de sapa, liderado pela casta sacerdotal do Bundesbank, para dar à luz o fastidioso monstro que agora temos. Não por acaso, a arquitectura do euro ignora olimpicamente toda a experiência acumulada de gestão monetária internacional no último século e meio, incluindo a indispensabilidade de um emprestador de última instância para enfrentar situações de pânico bancário e a instabilidade inerente aos sistemas de câmbios fixos.
Temos por isso a comandar os destinos do euro um banco cujos estatutos, violando a norma dos países desenvolvidos, não incluem a responsabilidade de fomentar o crescimento e o emprego, levam a independência ao ponto de não ter que prestar contas a ninguém e o proíbem, mesmo numa situação de emergência limite, de financiar directamente a dívida pública.
A justificação oficial para este arranjo é o trauma alemão com a híper-inflação de 1923, ocultando que não foi ela, mas a deflação e o pico do desemprego em 1931, provocados por políticas semelhantes às de hoje, que abriram caminho a Hitler. Porém, como a experiência demonstrou, a principal utilidade desta orientação foi a criação do enquadramento institucional mais favorável aos desígnios do mercantilismo alemão, uma modalidade de parasitismo que ameaça arrasar a economia europeia.
Muitos quiseram acreditar que, com o tempo, alguém de bom senso procederia à cirurgia reconstrutiva do aleijado. Mas é típico dos dogmáticos não se deixarem desencorajar pelo choque com a realidade.
A cura proposta por Ângela Merkel para consertar a zona euro assenta numa falsidade – que a crise actual foi criada pela indisciplina fiscal de alguns – e numa crença irracional – que a austeridade punitiva e a ortodoxia monetária salvarão a Europa. As pessoas sensatas tendem a acreditar que, no último momento (por exemplo, quando um grande banco europeu colapsar), o dogma será abandonado e o BCE e a União Europeia farão o que tem que ser feito. Mas a alternativa é tão dramática que, mesmo que pouco provável, não pode ser inteiramente descartada. Assim se explica a fuga de capitais da zona euro que no final de Novembro obrigou a uma intervenção concertada de emergência de vários bancos centrais.
Para salvar o euro, evitar a estagnação duradoura e proteger o emprego é urgente uma intervenção simultânea em três frentes: a) intervenção decidida do BCE para apoiar os bancos em dificuldades e comprar dívida soberana; b) políticas expansionistas nos países com superávites crónicos, a começar pela Alemanha; c) emissão de euro-obrigações dentro de limites a definir.
No ponto de colapso iminente do euro a que chegámos, ninguém (nem sequer a Alemanha) tem algo a ganhar com o prolongamento da situação, mas nunca devemos subestimar o temível poder da estupidez. Recorde-se que, embora uma multiplicidade de factores tenha preparado o terreno para a 1ª Guerra Mundial, em última análise foi a estupidez que a desencadeou; que Salazar empenhou estupidamente o país numa via sem saída quando declarou as colónias parte integrante do território nacional; ou ainda que, confrontado com uma guerra sem quartel em três frentes simultâneas, Hitler tomou a estúpida decisão de desviar recursos em larga escala para exterminar milhões de judeus.
Estão aparentemente esgotados todos os truques que permitiriam salvar a face aos fautores da confusão: alavancagem do FEEF; pedido de ajuda à China; encaminhamento do socorro do BCE através do FMI. Caminhamos agora na borda do precipício, mas Merkel, de dedinho no ar, insiste em ordenar ao euro: “Levanta-te e anda!” e em decretar contra os pecadores ameaças de terríveis punições até à sétima geração que deixariam incomodado o Deus do Antigo Testamento. Esta linha de atuação é infantil, caprichosa, irrelevante, irresponsável e perigosa. Bart Simpson rules
Publicado no Jornal de Negócios em 7.12.11
O euro é o ornitorrinco do mundo financeiro, uma ave mamífera rastejante que se imagina capaz de altos voos. Mas não se pense que foi concebido assim por engano: as primeiras versões do projecto da moeda única europeia, traçadas nos anos 70, incluíam quase tudo o que agora se reconhece faltar-lhe: união fiscal, união política, flexibilidade numa fase de transição, euro-obrigações e um emprestador de última instância.
Foi preciso muito trabalho de sapa, liderado pela casta sacerdotal do Bundesbank, para dar à luz o fastidioso monstro que agora temos. Não por acaso, a arquitectura do euro ignora olimpicamente toda a experiência acumulada de gestão monetária internacional no último século e meio, incluindo a indispensabilidade de um emprestador de última instância para enfrentar situações de pânico bancário e a instabilidade inerente aos sistemas de câmbios fixos.
Temos por isso a comandar os destinos do euro um banco cujos estatutos, violando a norma dos países desenvolvidos, não incluem a responsabilidade de fomentar o crescimento e o emprego, levam a independência ao ponto de não ter que prestar contas a ninguém e o proíbem, mesmo numa situação de emergência limite, de financiar directamente a dívida pública.
A justificação oficial para este arranjo é o trauma alemão com a híper-inflação de 1923, ocultando que não foi ela, mas a deflação e o pico do desemprego em 1931, provocados por políticas semelhantes às de hoje, que abriram caminho a Hitler. Porém, como a experiência demonstrou, a principal utilidade desta orientação foi a criação do enquadramento institucional mais favorável aos desígnios do mercantilismo alemão, uma modalidade de parasitismo que ameaça arrasar a economia europeia.
Muitos quiseram acreditar que, com o tempo, alguém de bom senso procederia à cirurgia reconstrutiva do aleijado. Mas é típico dos dogmáticos não se deixarem desencorajar pelo choque com a realidade.
A cura proposta por Ângela Merkel para consertar a zona euro assenta numa falsidade – que a crise actual foi criada pela indisciplina fiscal de alguns – e numa crença irracional – que a austeridade punitiva e a ortodoxia monetária salvarão a Europa. As pessoas sensatas tendem a acreditar que, no último momento (por exemplo, quando um grande banco europeu colapsar), o dogma será abandonado e o BCE e a União Europeia farão o que tem que ser feito. Mas a alternativa é tão dramática que, mesmo que pouco provável, não pode ser inteiramente descartada. Assim se explica a fuga de capitais da zona euro que no final de Novembro obrigou a uma intervenção concertada de emergência de vários bancos centrais.
Para salvar o euro, evitar a estagnação duradoura e proteger o emprego é urgente uma intervenção simultânea em três frentes: a) intervenção decidida do BCE para apoiar os bancos em dificuldades e comprar dívida soberana; b) políticas expansionistas nos países com superávites crónicos, a começar pela Alemanha; c) emissão de euro-obrigações dentro de limites a definir.
No ponto de colapso iminente do euro a que chegámos, ninguém (nem sequer a Alemanha) tem algo a ganhar com o prolongamento da situação, mas nunca devemos subestimar o temível poder da estupidez. Recorde-se que, embora uma multiplicidade de factores tenha preparado o terreno para a 1ª Guerra Mundial, em última análise foi a estupidez que a desencadeou; que Salazar empenhou estupidamente o país numa via sem saída quando declarou as colónias parte integrante do território nacional; ou ainda que, confrontado com uma guerra sem quartel em três frentes simultâneas, Hitler tomou a estúpida decisão de desviar recursos em larga escala para exterminar milhões de judeus.
Estão aparentemente esgotados todos os truques que permitiriam salvar a face aos fautores da confusão: alavancagem do FEEF; pedido de ajuda à China; encaminhamento do socorro do BCE através do FMI. Caminhamos agora na borda do precipício, mas Merkel, de dedinho no ar, insiste em ordenar ao euro: “Levanta-te e anda!” e em decretar contra os pecadores ameaças de terríveis punições até à sétima geração que deixariam incomodado o Deus do Antigo Testamento. Esta linha de atuação é infantil, caprichosa, irrelevante, irresponsável e perigosa. Bart Simpson rules
Publicado no Jornal de Negócios em 7.12.11
quarta-feira, 9 de novembro de 2011
Quando todos devem a todos e ninguém consegue pagar
Um jovem continua desempregado três anos depois de concluir os seus estudos e começa a desconfiar que jamais ganhará o que esperava. Um casal que comprara uma casa nova para aí criar os seus dois filhos sofre um choque quando a mulher perde o seu posto de trabalho. Uma empresa que duplicara a sua capacidade de produção vê-se confrontada com uma queda abrupta da procura externa. Um país que, fiado no sucesso passado, investiu na melhoria do seu sistema de educação, constata que as receitas fiscais regridem de forma duradoura.
Se, como é usual, esse estudante, essa família, essa empresa e esse estado tiverem contraído empréstimos para financiar os seus projectos, todos poderão ter problemas de solvência. As pessoas e as empresas planeiam o seu futuro em função de expectativas de melhoria ou, ao menos, estabilidade da sua situação. Se algo de inesperado sucede, a sua capacidade de pagar será posta em causa.
O que há de comum a todas essas situações é um erro de avaliação de risco. Mas o crédito implica também uma atitude optimista do emprestador. Se o devedor não consegue pagar, isso significa que também o credor avaliou mal o risco. Por que deverá o erro do primeiro ser mais penalizado do que o do segundo? O perdão do devedor premeia a sua imprevidência? A garantia do credor também. Porquê, então, a assimetria no tratamento de um e de outro?
A aflição em que hoje vivemos, convém lembrá-lo, teve a sua origem no negócio fraudulento do subprime que, por via da difusão de produtos tóxicos, contaminou o sistema financeiro mundial. Para evitar o colapso, a dívida incobrável, que passara primeiro das famílias para os bancos, foi depois, por múltiplas formas, transferida para os estados. O seu ónus regressou agora aos bancos e, sob a forma de falências, desemprego e carga fiscal agravada, às famílias e às empresas.
As políticas de resposta à crise têm-se limitado até agora a fazer circular a dívida de mão em mão, sem se decidirem a atacar o fundo do problema, que é este: não há nenhuma forma de voltarmos a ter crescimento económico duradouro enquanto se persistir em exigir que a colossal dívida acumulada a nível mundial seja integralmente paga, especialmente quando, não sendo questionadas as políticas mercantilistas da China e da Alemanha que se encontram na sua origem, ela não pára de crescer.
Na antiga Lei de Moisés, a cada meio século era decretado um Jubileu de reconciliação entre os homens, remissão dos pecados e perdão universal: os escravos e os prisioneiros eram libertados e as dívidas eram anuladas. Mas o perdão das dívidas, mesmo que parcial, é hoje estigmatizado como blasfemo por ofender o poder do Dinheiro, deus verdadeiro do mundo contemporâneo.
Note-se que a anulação total ou parcial das dívidas, cancelando simultaneamente ativos e passivos, não afecta a riqueza existente, mas altera a sua distribuição. Porém, ao transferir recursos para aqueles que tem maior propensão a despendê-los, contribui para desbloquear a retoma.
Ainda que os obstáculos políticos a uma tal operação fossem superados, a renegociação caso a caso das dívidas à escala mundial envolveria uma tal complexidade e tomaria tanto tempo que teremos que reconhecer a sua inviabilidade. A solução prática para a desvalorização rápida, progressiva, generalizada e implacável das dívidas é conhecida desde tempos imemoriais e chama-se inflação. Isso consegue-se monetarizando as dívidas dos estados, coisa que, na actual crise, os EUA e o Reino Unido têm vindo a fazer com bons resultados.
Resta, no caso da Europa, uma pequena dificuldade: uma superstição bárbara e irracional proíbe o BCE de comprar directamente títulos da dívida pública nos mercados primários, o que o impossibilita de funcionar como emprestador de última instância – uma singularidade nada invejável do sistema monetário a que estamos amarrados.
Se no tempo de Moisés já houvesse banco central, é provável que a Bíblia lhe recomendasse que agisse como emprestador de última instância em caso de crise financeira adequada. Como os textos sagrados nada dizem a este respeito, resta-nos esperar que, antes da queda no abismo, Mario Draghi se atreva a interpretar de forma ousada o mandato que a União lhe atribuiu, enfrentando, se necessário, a ira dos Nibelungos. Hoje em dia nem é preciso pôr a máquina de fazer notas a funcionar – basta carregar num botão.
(Publicado no Jornal de Negócios em 9.11.11)
Se, como é usual, esse estudante, essa família, essa empresa e esse estado tiverem contraído empréstimos para financiar os seus projectos, todos poderão ter problemas de solvência. As pessoas e as empresas planeiam o seu futuro em função de expectativas de melhoria ou, ao menos, estabilidade da sua situação. Se algo de inesperado sucede, a sua capacidade de pagar será posta em causa.
O que há de comum a todas essas situações é um erro de avaliação de risco. Mas o crédito implica também uma atitude optimista do emprestador. Se o devedor não consegue pagar, isso significa que também o credor avaliou mal o risco. Por que deverá o erro do primeiro ser mais penalizado do que o do segundo? O perdão do devedor premeia a sua imprevidência? A garantia do credor também. Porquê, então, a assimetria no tratamento de um e de outro?
A aflição em que hoje vivemos, convém lembrá-lo, teve a sua origem no negócio fraudulento do subprime que, por via da difusão de produtos tóxicos, contaminou o sistema financeiro mundial. Para evitar o colapso, a dívida incobrável, que passara primeiro das famílias para os bancos, foi depois, por múltiplas formas, transferida para os estados. O seu ónus regressou agora aos bancos e, sob a forma de falências, desemprego e carga fiscal agravada, às famílias e às empresas.
As políticas de resposta à crise têm-se limitado até agora a fazer circular a dívida de mão em mão, sem se decidirem a atacar o fundo do problema, que é este: não há nenhuma forma de voltarmos a ter crescimento económico duradouro enquanto se persistir em exigir que a colossal dívida acumulada a nível mundial seja integralmente paga, especialmente quando, não sendo questionadas as políticas mercantilistas da China e da Alemanha que se encontram na sua origem, ela não pára de crescer.
Na antiga Lei de Moisés, a cada meio século era decretado um Jubileu de reconciliação entre os homens, remissão dos pecados e perdão universal: os escravos e os prisioneiros eram libertados e as dívidas eram anuladas. Mas o perdão das dívidas, mesmo que parcial, é hoje estigmatizado como blasfemo por ofender o poder do Dinheiro, deus verdadeiro do mundo contemporâneo.
Note-se que a anulação total ou parcial das dívidas, cancelando simultaneamente ativos e passivos, não afecta a riqueza existente, mas altera a sua distribuição. Porém, ao transferir recursos para aqueles que tem maior propensão a despendê-los, contribui para desbloquear a retoma.
Ainda que os obstáculos políticos a uma tal operação fossem superados, a renegociação caso a caso das dívidas à escala mundial envolveria uma tal complexidade e tomaria tanto tempo que teremos que reconhecer a sua inviabilidade. A solução prática para a desvalorização rápida, progressiva, generalizada e implacável das dívidas é conhecida desde tempos imemoriais e chama-se inflação. Isso consegue-se monetarizando as dívidas dos estados, coisa que, na actual crise, os EUA e o Reino Unido têm vindo a fazer com bons resultados.
Resta, no caso da Europa, uma pequena dificuldade: uma superstição bárbara e irracional proíbe o BCE de comprar directamente títulos da dívida pública nos mercados primários, o que o impossibilita de funcionar como emprestador de última instância – uma singularidade nada invejável do sistema monetário a que estamos amarrados.
Se no tempo de Moisés já houvesse banco central, é provável que a Bíblia lhe recomendasse que agisse como emprestador de última instância em caso de crise financeira adequada. Como os textos sagrados nada dizem a este respeito, resta-nos esperar que, antes da queda no abismo, Mario Draghi se atreva a interpretar de forma ousada o mandato que a União lhe atribuiu, enfrentando, se necessário, a ira dos Nibelungos. Hoje em dia nem é preciso pôr a máquina de fazer notas a funcionar – basta carregar num botão.
(Publicado no Jornal de Negócios em 9.11.11)
Subscrever:
Mensagens (Atom)